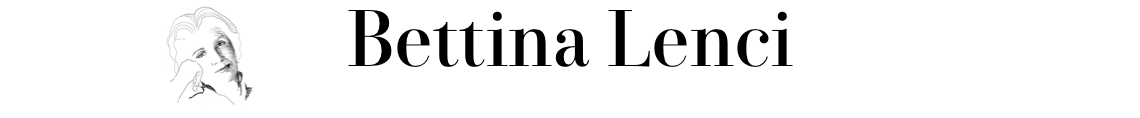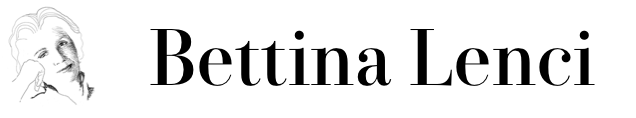Na boleia do caminhão, um abafamento que Rosa Maria aguentava como punição pelos seus pecados imaginados. O suor lhe escorria pela nuca, gotejando por entre os seios como lágrimas pedindo perdão.Parava à noitinha nos postos de beira de estrada. Seus pertences resumidos a uma toalha, pasta e escova de dente e havaianas. Nada de batom ou pó de arroz.
Ela poderia pagar por um quarto de posto, aqueles de uma janela só que abrem a metade, moldura de alumínio mole, vidro chapiscado, sempre emperrando no trilho barato. Um ventilador de duas pás imundas e molengas, uma lâmpada sem bocal, dependurada, mas preferia “o quarto” do seu caminhão. Tinha de cuidar da carga: de dia da estrada e dos guardas, à noite, dos ladrões.
Ela dormia de shorts, camiseta sem manga e sem sutiã. Nunca usava porque não carecia. Tinha pouco seio. No trabalho usava tênis apesar de preferir as sandálias de plataforma, mas guiar caminhão com elas era proibido. Rosa Maria era baixa, mas puxar a pesada lona amarela – cuja propaganda da fabricadora se lia: ”..GUERRA é Paz na estrada”- por cima da mercadoria e retirá-la no fim da viagem, tornaram seus braços e pernas musculosos sem contudo retirar-lhes o contorno feminino. Rosa Maria só conhecia vida com caminhão. Ela foi gerada na boleia de um deles e o seu diminuto mundo formou-se sentada no banco de passageiro. Seu estudo suficiente para ler a nota fiscal da mercadoria e saber quanto pagar para os guardas rodoviários que insistiam em criar dificuldades para vender facilidades quando percebiam que ela não iria “dar” outra coisa senão dinheiro. Sabia o suficiente para ler as placas, o limite de velocidade e o peso da balança no pedágio. Raramente bebia uma cerveja porque preferia não conversar com os colegas barbudos e barulhentos nas mesas dos restaurantes mal iluminados. Não comprava revistas por serem de mulheres em poses eróticas, o público era masculino. Todos os discos de música sertaneja ela já os possuía. Fazia sua própria comida no fogareiro e panela que ficava embaixo do caminhão, fechados numa caixa de madeira, a cadeado.
Seu aprendizado foi com os sentidos. Qualquer movimento minimamente estranho aos seus ouvidos a deixavam de prontidão: algo de errado com o motor ou com o jeito do colega olhar para as suas pernas. Com os números de litros correndo no tanque de abastecimento, qualquer diferença era o seu ganha pão. O pior dos ruídos era o estouro do pneu, o possível descontrole da carreta ou um assalto a mão armada. Ganhava bem e deixava de gastar consigo para ter sempre os pneus trocados na hora certa.
Seu caminhão luzia como ela mesma. O caminhão e Rosa Maria eram uma só vida, dependentes um do outro.
Era solteira, católica e na falta de outra educação, criada dentro dos dez mandamentos, pelo pai. A mãe o havia deixado por outro caminhoneiro. Rosa Maria decidiu-se pela mesma profissão quando seu pai morreu e deixou o caminhão como única herança.
Sempre que chegava nos postos, antes do jantar, lavava ritualisticamente a si e ao caminhão, ambos cansados do dia viajando pelas estradas desbarrancadas. O corpo dela e o motor do caminhão doíam. A cada parada, por medo de ser molestada por colegas ou ladrões, sentia-se segura dormindo na rede armada no diminuto espaço entre o banco e o “céu” do seu caminhão que pintou com nuvens e estrelas para não se esquecer de sonhar. Ao deitar-se, rezava. Era o momento esperado na sua vida sem literatura, o prazer esvaindo-se do interior de seu corpo. Era o momento em que se reconhecia. Antes de adormecer agradecia ao caminhão pela vida que levava.