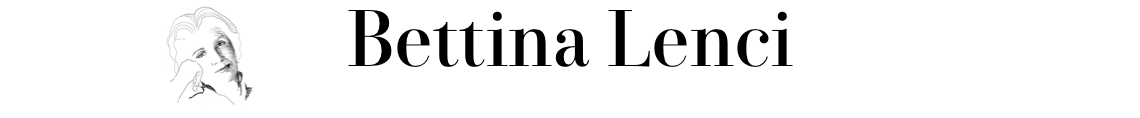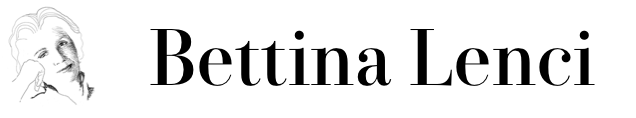Entrevista Bettina Lenci para Revista Planeta, em maio de 1994
A vivência administrativa seguindo orientações holísticas existe por aqui desde o final da década passada – época em que Bettina Lenci implantou seu ideário na Translor, empresa de transportes que possui, e com isso conseguiu salvá-la da falência. Essa riquíssima experiência, abordada no livro Sem Avesso (Editora Aquariana), é o tema da entrevista a seguir.
Administração Holística Made in Brasil
A vivência administrativa seguindo orientações holísticas existe por aqui desde o final
da década passada – época em que Bettina Lenci implantou seu ideário na Translor, empresa de transportes que possui, e com isso conseguiu salvá-la da falência. Essa riquíssima experiência, abordada no livro Sem Avesso (Editora Aquariana), é o tema da entrevista a seguir.
Por Eduardo Araia
Gostaria que você fizesse um breve sumário da sua iniciação como empresária.
■ É basicamente a história de uma mulher que fica viúva, de uma perda. Então comecei a trabalhar porque tinha de sobreviver, tinha dívidas a pagar; como não havia outra saída, fui cuidar da empresa.
Mas havia uma atividade anterior, você era fotógrafa…
■ Era, mas tinha optado pelo caminho do casamento, de mãe; então o destino pôs esse desafio no meu caminho de modo inconsciente. Não foi uma grande revelação; foi uma opção bem racional. O fato foi muito explorado porque a Translor está ligada ao setor de transportes, que é difícil – lida com motoristas, indústria automobilística, cujos produtos transportamos; tudo isso foi criando uma aura em torno de mim. Por isso senti necessidade de escrever um livro, não sobre o que fiz, mas sobre o que a vida fez comigo.
O que você fez com a empresa e o que ela fez com você?
■ Só fui fazer algo pela empresa muitos anos depois de assumi-la; no início foi um peso muito árduo, meu talento principal não era ser empresária. A empresa mobilizou qualidades que eu não tinha, muito mais na segunda viuvez. Só aí senti que alguma coisa me dizia não haver saída, tinha de ser; “então, vamos lá”, pensei. Aí me travesti de homem e de empresário. Foi uma passagem muito difícil. Em 88 a Translor estava quase quebrando em função do Plano Cruzado, da minha inexperiência na escolha de funcionários que a dirigissem. Aí percebi que tínhamos de mudar para fazer a empresa renascer e fui buscar algo que se adaptasse a mim, novos sócios – Ricardo Uchôa Alves de Lima, Sérgio Rodrigues Bio, Rubens Forbes Alves de Lima na tentativa de fazer da empresa um ambiente mais condizente com o que eu sentia. Tudo era muito embrionário, mas seguindo meus valores, não mais os de outros. Foi um conflito grande, porque o que já existe é muito mais forte e dificultou a implantação.
Há um dado curioso. Meu primeiro marido, Walter Lorch, foi um pioneiro, o primeiro empresário a fazer a carreta, a transportar automóveis, a fazer transporte ferroviário, por balsa. Embora ele fosse muito carismático, a empresa sempre viveu crises, nasceu sob o signo da crise (Escorpião). E ela também sempre se renova em si mesma. A Translor é escorpiana, o Walter era Escorpião, eu tenho Escorpião no ascendente e Plutão (regente de Escorpião) no meio do céu. Meu segundo marido, Roberto Lenci, era o oposto de tudo isso; ele não participou da administração da empresa. Nos anos em que fiquei fora, casada, Roberto ficou muito doente e tive outra vivência muito rica. Ele morreu em 84 e só em 87/88 comecei um novo ciclo na empresa.
Fale-nos sobre esse novo ciclo.
■ Não tenho nenhuma teoria, nenhuma regra. Acredito nas coisas e vou tocando. Não sem sacrifício e cansaço – às vezes, as pessoas são muito resistentes…
Você se refere a funcionários?
■ Sim. Muitas vezes eles chegavam com armaduras, verdadeiros guerreiros, mas para uma guerra que não é a minha. Até perceberem a proposta, era um verdadeiro corpo a corpo. Não posso visar ao holístico no lugar do resultado: é uma questão de objetividade. Então, a convivência com esses dois mundos me faz pensar se vale a pena continuar. Vivo da indústria automobilística, que pode ser considerada o expoente da não-holística. Imagine o que há de energias conflitantes num lugar onde trabalham mais de 20 mil pessoas. São funcionários bem treinados, mas – humanamente falando – protótipos de gente. Fala-se muito sobre dar espaço para o erro, e na Translor propõe-se “aqui você pode errar, o erro é o processo da transformação”; mas eles não entendem, ficam perdidos. Não quero ser o agente da transformação; o agente é a empresa. Quero que quem está lá criando perceba que é a Translor que transforma, não eu. Não encontro facilmente pessoas com o perfil adequado para trabalhar lá. A área de Recursos Humanos é muito atacada, e eu sou diretamente responsável por ela.
Atacada interna ou externamente?
■ Internamente. Como os funcionários têm dificuldade em resolver suas coisas e a empresa tenta abrir caminhos para que eles as solucionem, quando não dá certo a culpa passa a ser de RH. E embora eu seja a dona da empresa e a diretora da área de RH, eles não se constrangem em dizer que a culpa é minha. Há duas coisas complicadas para atingir resultados mais rapidamente: o baixo nível de instrução e de informação e o ambiente cultural de onde as pessoas saem. Em geral, o trabalhador brasileiro – não só da classe média baixa, mas da média e da média alta, lidamos com os três níveis – traz informações muito burguesas, chauvinistas, machistas, preconceituosas. Essa é outra barreira, pouca informação holística, eu diria até religiosa. Tem horas em que quero jogar tudo para o ar; em outras, digo “não, o processo é justamente acolher isso”. Minha equipe me ajuda, mas não impede que isso ocorra. As vezes acho que rumamos para uma área muito mais espiritual, embora o holismo tenha sido a primeira visão inovadora.
Pessoas como Fritjo Capra ou Peter Russell têm preparo espiritual, mas não costumam falar abertamente disso justamente por causa dos preconceitos.
■ Os preconceitos são muito fortes e, embora o caminho espiritual te faça companhia, o trabalho torna-se muito solitário. E a minha grande pergunta quanto a esses teóricos é: “Qual é a vivência na prática?” Se os empresários estão sentados ali na cadeira, tendo de gerar lucro, como é que funcionam essas duas coisas? Acho que tudo o que falam são contribuições riquíssimas para a evolução das idéias, mas, na prática, não consigo ver resultados especificamente. E é preciso começar a transformação pelo dono da empresa. Isso não vem de baixo para cima, pelo contrário. O que aconteceu comigo foi o processo de transformação primeiramente meu, depois no sentido inverso; e eu estou ainda integrada nesse processo, acho que aqui os trabalhos se cruzam, mas às vezes me pergunto: “Será que dá?” Eu trabalho com gente,
então há ritmos e expectativas diferentes, grandes conflitos.
Quando digo que não sou uma empresária, é porque tentei ser como eram os outros e não consegui. Eles falavam que faziam e aconteciam, mas aquilo foi me angustiando – dizia-se uma coisa, fazia-se outra. No Ricardo Semler, por quem eu tinha grande admiração, senti que não havia o lado espiritual em que ele acreditasse; além disso, o Semler também nunca estava presente na empresa para que eu pudesse saber o que estava ocorrendo. Aí não me restou nenhum modelo; vou pela intuição, o meu referencial sou eu mesma, não tenho outro. Trabalho em cima da transformação dessa intuição. Procuro não ler muito; eu me informo, mas não me aprofundo muito.
Foi algo sincrônico ou você já tinha informações sobre a administração holística?
■ Comecei a ter informação por volta de 86/87, com o livro da Marilyn Ferguson, A Conspiração Aquariana. Comprei alguns exemplares e os dei para os meus colaboradores, isso em 88. Coincidentemente, nessa época eu encontrei a Vera Helena, o José Ernesto Beni Bologna (que me fez compreender que minhas crenças em relação à empresa eram passíveis de ser experimentadas na prática), o Carlos Eduardo Lacaz (psicólogo que lida com recursos humanos, hoje encarregado de captar essas teorias e tentar transplantá-las para a empresa); a astróloga Lydia Vainer veio antes. Também tinha contato com uma ou outra pessoa fora do meu grupo, em geral empresários do PNBE (Pensamento Nacional das Bases Empresariais) que eu achava que buscavam esse lado espiritual. No Brasil se confunde muito honestidade com holística; quem é holístico é um cara melhor, de visão mais ampla, intelectual, mais aberto, humanista, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fui para o PNBE achando que era isso, mas não: eram apenas éticos, embora mais modernos que os empresários da Fiesp. Saí do PNBE e fui diretora de tudo o que você pode imaginar no meu setor, mas não me realizava. Só agora, enfurnada na Translor, em São Bernardo do Campo, que é um microcosmo, eu estou feliz; não quero saber de assuntos de fora, já que é muito grande o trabalho a fazer na empresa.
Tenho certeza de que há uma rede invisível de seres humanos dedicados a esses assuntos que está crescendo no mundo. Dá para perceber pelo meu livro: mesmo com linguagem difícil e tendo sido mal distribuído, as pessoas o procuram, principalmente mulheres. Mas faço um uso intuitivo das idéias holísticas; não quero teorizar sobre esse assunto, temo que passem a achar que estou ditando regras ou criando modelos. É uma crença que tenho e vivo melhor assim; não tenho a verdade.
Há um enorme preconceito dos céticos relativo à astrologia. Como ela chegou a você?
■ Sou judia, e judeus têm uma tendência a ver outra dimensão. Minha busca começou por eu não me adaptar ao que ali estava. Isso foi gerando angústia, eu precisava encontrar uma saída. Minha mãe sempre acreditou em astrologia; por volta de 62/63 ela fez meu mapa astral, que me deu quando o Walter morreu, em 74. Foi meu primeiro contato com a astrologia. Lá falava que eu ia ter muitas perdas, processos, mudanças, mas seria uma pessoa de muito sucesso. Embora naquele momento não estivesse vendo sucesso em nada, acreditei.
Trabalhei muito comigo mesma em cima dele.
Em 86 encontrei a Lydia Vainer e achei interessante a maneira como ela interpretava o mapa, mais filosófica e abrangente, não apenas com previsões. Quando lhe perguntei se ia quebrar de novo, ela leu nas entrelinhas o que eu queria dizer – “não é possível que a Bettina vá perder de novo”. E ficou em conflito, porque estava claro que eu iria perder de novo. Mas aí ela usou a imagem do renascer, e isso me deu essa alavancada do renascimento.
Seu mapa parece indicar uma compulsão a fazer com que sempre haja transformações.
■ Não há condições de ficar parada. Por isso, as pessoas da empresa precisam ser muito rápidas, flexíveis, abertas; eu tenho um pequeno número de funcionários assim, consegui a duras penas. Muitos empresários dizem que conseguem isso, não sei como. Mas posso dizer que, com a fórmula que estou trabalhando, consigo rapidez e agilidade. Minha empresa hoje sai na frente em qualquer situação, e tenho certeza de que é em função dessa filosofia na área de RH. A Translor trabalha 24 horas por dia; alguns trabalham literalmente 18 horas diárias – não que estejam ganhando mais, eles simplesmente não conseguem sair de lá. Quem entra na empresa sente o bom astral do lugar; aquilo fervilha, é muito ágil.
As pessoas ficam estressadas?
■ Eu vivo em estresse, assim como muitos funcionários. Transporte é uma coisa complicada, muitas pessoas diferentes fazendo coisas diferentes, não tem horário; de modo geral, não há como não se estressar. Se entra na freqüência que está no ar, você se estressa. Estamos dentro da frequência e as coisas vão se avolumando, você tem de criar tudo do nada. Esse estresse é muito das pessoas que estão na freqüência holística. As que não estão nela e encontram-se estressadas têm outro tipo de estresse, o do desânimo, não-produtivo.
Mesmo assim o ambiente é bom?
■ As pessoas não querem ir embora, gostam de lá; é uma empresa muito conhecida.
Você comenta no livro que muitos empresários consultam os astros, embora não divulguem isso…
■ Os empresários são muito engraçados no sentido adivinhatório. Querem saber imediatamente se vai dar certo ou não, se vão ganhar ou não. Falo de uma faixa dos grandes; já ouvi muitas histórias sobre eles, e eles mesmos contam que usam não só a astrologia, vão até a pais-de-santo, gente para desfazer trabalhos…
Sou vista nesse meio como uma empresária séria, legal, mas meio ingênua. Escrevi isso no livro de propósito, porque era verdade no meu processo de transformação. E tinha de colocar que a astrologia não deve ser usada para fins adivinhatórios, mas como um fortíssimo instrumento de interpretação de si próprio.
Como seus funcionários são captados?
■ O original do meu projeto é que fui no rumo oposto: não fui buscar especialistas em nada, apenas pessoas que acreditassem nas mesmas coisas que eu. Se elas acreditavam em mim, eu tinha como desenvolver seu trabalho – desenvolver uma habilidade numa pessoa não é difícil. Uns vieram meio desconfiados e já não estão mais na empresa. Outros acreditaram profundamente, e foi um casamento perfeito. Se eu dissesse “acho que este funcionário, nesta situação, vai funcionar assim”, todos os meus sócios me apoiavam, havia a compreensão da busca, do desenvolvimento amoroso, espiritual. Certamente eu não tenho os melhores homens, mas tenho bons homens. E a seleção segue esse modelo, se é que se pode chamar de modelo.
Criamos na empresa uma funcionária para seleção, Tânia Loyello, que trabalha tentando descobrir a capacidade de caráter, comportamento e competência (três “cês”). Caráter não se discute, comportamento você transforma e competência você gera. A especialização vem depois. Em 87/88 eu pensei: que projeto de vida eu tenho? Preciso de um, já que tenho uma empresa, o destino me colocou claramente isso por duas vezes. Perguntava ao candidato se ele queria me acompanhar no meu projeto; aí seria testado. As pessoas geralmente não sabem qual é o seu projeto de vida; na Translor, têm espaço para descobrir. Se o candidato não sabe, mas há uma abertura para que a gente possa interferir amorosamente e esse projeto se coaduna com o da empresa, eu tenho o melhor funcionário do mundo, porque ele está feliz, vai me dar qualidade, produtividade e, resultados. Se ele está lá só porque tem que fazer, nunca vai gerar qualidade.
Sei que preciso produzir resultados na Translor, mas não acho que uma empresa possa produzir sem gente – e gente feliz, com projetos de vida próprios, que não deve ser a empresa, o salário no fim do mês.
Como você analisa a comunicação interna na Translor?
■ Sou muito informal. As vezes a informalidade não é bem entendida, as pessoas ficaram soltas; isso gerou indisciplina, pontas soltas sem seqüência, o que não é produtivo. Há um programa internacional de qualidade, chamado ISO-9000, em que você tem de se encaixar em normas. Estamos iniciando esse processo porque sentimos que a informalidade não funciona muito bem para o espaço profissional. As pessoas precisam de regras, por mínimas que sejam. Estamos tentando encontrar um modelo com poucas formalidades, mexendo com a criatividade, pois mataram a criatividade dentro das empresas. A empresa é relativamente pequena e aumentou muito o faturamento em um ano. No livro eu falo de 20 milhões de dólares/ano, agora pulamos para cerca de 40 milhões. Temos de correr atrás e adaptá-la a isso. Houve uma implosão, estou agora reconstruindo a empresa. Foi uma morte simbólica, mas no aspecto positivo da morte – eu nunca vejo o fim, sempre o começo das coisas. Estou de novo nessa fase de adaptação, convencendo pessoas novas a virem; isso custa muito dinheiro. Nessa busca, as que tenho encontrado saem de grandes empresas totalmente frustradas em busca de projetos. Algumas, na faixa dos 40/50 anos, estão divididas pelo fator segurança, porque entrar na Translor é um tiro no escuro; elas ficam entre a aposentadoria e a ousadia de novos projetos.
Numa empresa holandesa, segundo conta Peter Russell, todo departamento é dividido quando atinge mais de 50 funcionários.
■ Estamos fazendo isso também. Um gerente hoje tem de cuidar do caminhão, do motorista, da fatura. O carregador tem um curso em que entra formação holística. A busca é contra o relógio; formar pessoas rapidamente. Vamos implodindo, montando pequenas empresas dentro de um grande conglomerado. Estamos tentando desenvolver coordenadores de área. Uma equipe tem de ser como uma orquestra, caso contrário não anda.
Como estão seus funcionários em termos salariais?
■ Contratamos pessoas muito jovens, 25 anos em média, novos no mercado, com pouca experiência, mais fáceis de lidar porque vêm com menos vícios. Assim mesmo estamos um pouco abaixo da média, porque o investimento que fazemos nas pessoas, o qual é invisível, não entra no bolso deles, é muito alto. Tento fazer o funcionário ver essa forma de benefício e consigo um retomo muito bom. Nossa folha de pagamento não é a maior, mas na prática os funcionários sentem esses benefícios. Quando saem, são muito cobiçados no mercado, às vezes até para ganhar mais. Minha única dúvida é se esse esforço compensa. Talvez já dê para perceber um esboço de modelo que pode ser aplicado. O pioneirismo a gente conhece pela quantidade de flechadas que levou nas costas. A crença é de que há uma rede de coisas invisíveis ocorrendo que se vai formatar e se apresentar. Mas aí já deveremos estar em outro estágio que não sei qual é. Isso que eu e outras pessoas estamos fazendo vai aflorar, mas já vai ser passado. Temos de estar continuamente vendo o que vem depois disso. Isso gera uma tensão. Acho que vivo uma tensão sadia, enquanto os outros vivem uma tensão não-sadia. Não acho que minha empresa esteja fazendo escola, embora às vezes, quando vou a um cliente, veja que ele sabe que a Translor é uma empresa diferenciada. Em 90 houve uma corrente de idéias, você escrevia dez cartas para dez empresários e assim por diante. Escrevi sobre nossas crenças e estava favorável ao Collor, porque acho que ele veio para desbloquear, embora não soubesse dessa sua predestinação, de fazer o que tinha de fazer e ir embora. Saí não em defesa dele, mas do Brasil.
Imprimimos mil desses caderninhos e mandei-os para cem empresários, dez para cada um. Não recebi nenhum retomo. Em contrapartida, comecei a receber telefonemas de pessoas e tive de imprimir mais 7 mil, o que me fez deduzir que sou não um exemplo para empresários, mas uma propulsora de idéias; três dias depois nasceu o livro, pois percebi que existia um público para ler idéias, transformações, valores, a maioria silenciosa. Meu próprio parceiro de texto, Sinval Medina, sentiu essas transformações fazendo o livro. Meu incentivo é esse público. O empresário será conseqüência, se ele quiser; não estou mais preocupada em ser um paradigma de solução, consegui superar essa vaidade.
É difícil administrar uma empresa eticamente no Brasil e ter lucro?
■ Não. O lucro não está ligado à ética, mas a uma boa administração, gastar menos do que se ganha. Não tenho ganho muito dinheiro porque estou sempre reinvestindo basicamente em projetos e gente, e às vezes em coisas que não dão certo. Por ser tão complicada a nossa legislação fiscal, trabalhista, o empresário está sempre um pouco na contravenção; as coisas racionais às vezes não funcionam racionalmente e são obsoletas em relação à sua necessidade de progredir. As vezes você assume posições não-éticas por causa de uma lei burra; não para driblá-la, mas para adaptá-la à realidade. Eu não sonego, mas você tem de considerar que o custo de um funcionário é 98% acima do que ele ganha e ele não oferece esses 98% a mais em produtividade para a empresa; isso é absurdo, não é ético.
Sem Avesso tem direitos destinados à Fundação Walter Lorch. Qual é a proposta dessa Fundação?
■ A Fundação é um sonho meu, e era também do Walter. Existe uma população imensa de caminhoneiros/carreteiros, um contingente muito grande da sociedade produtiva. Eles só existem para a população na estrada, quando fazem barbeiragem. Mas carregam nas costas 70% da produção nacional. Eles são considerados toscos; a Fundação viria para desenvolvê-los mais. Gostaria de fazer uma campanha sobre alimentação, por exemplo, por que eles comem mal, dormem mal, vivem mal. É um trabalho que pretendo desenvolver na Fundação com a ajuda das indústrias automobilística, de pneus, farmacêutica. Os carreteiros em geral não se expressam mal, falam pouco, são seres de difícil acesso. A responsabilidade civil deles, contudo, é enorme. E quem se preocupa com isso?
Revista Planeta, maio de 1994