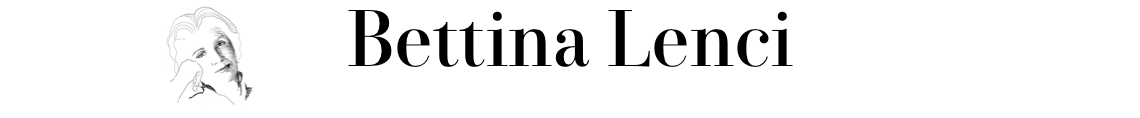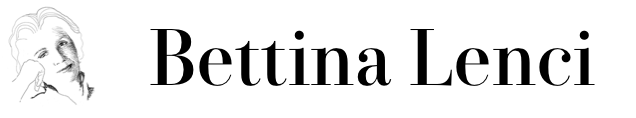Transcrição
BETTINA LENCI
Uma mulher na direção
Ela ia ser museóloga. Foi repórter, depois
fotógrafa. E acabou no comando de uma das grandes
transportadoras do país. Com a mesma garra.
Por GERALDO MAYRINK/EDA ROMIO / Fotos SAMUEL IAVELBERG
Era uma vez uma menina para quem os pais inventaram um conto de fadas. Eles vinham da Europa então devastada pela Segunda Guerra — ele era alemão, ela, austríaca — e sempre acharam que a menina, nascida no Brasil, tinha mais talento que seus professores e que, definitivamente. merecia as melhores chances do mundo. Assim, aos 13 anos, ela foi para a Suíça, aprendeu inglês, francês e alemão, estudou arte e decidiu que seria museóloga. Uma ligeira correção de rumo a levaria, aos 20 anos, a Nova York, como repórter da revista Manchete, c, aos 24, a traria de volta a São Paulo, como fotógrafa de Veja desde seus primeiros números. Apesar dos planos mudados, era tudo o que seu pai, Peter Scheier, fotógrafo famoso nos tempos áureos de O Cruzeiro, poderia desejar.
Mas Irene Elizabeth, a Bettina, logo se casou, teve duas filhas, aposentou sua câmera Pcntax e, aos 30 anos, com a morte repentina do marido, o engenheiro Walter Lorch, encarou um pesadelo: 2 milhões de dólares em dívidas do que restava do patrimônio da Translor, uma empresa de Transportes fundada por ele em 1958, em São Bernardo do Campo. Alemão de nascimento, graduado cm transporte pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) c pós-graduado cm Administração de Empresas pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, Lorch concebia o negócio dos transportes como algo bem maior do que a simples entrega de pacotes — foi ele quem projetou e introduziu no Brasil as cegonhas para carros e crio um serviço de entrega automática para as redes de varejo. Lorch morreu aos 50 anos, antes que muitas de suas tentativas pioneiras vingassem, e Bettina viu-se numa condição muito peculiar de herdeira: tinha de sobreviver num mundo do qual tudo o que sabia era o que o marido comentava informalmente em casa.
A guerra da qual sua família escapara começou de uma outra forma para ela. Era 1974. Os irmãos e sócios de Lorch achavam a Translor uma batalha perdida.
Assustada, para dizer o mínimo. Bettina comprou as ações deles c foi à luta. O que não sabia tinha de aprender rápido, cercada de gente que pudesse ensiná-la. E assim fez. Com um único cliente, a Ford, a Translor disparou estrada afora e cm treze anos transportou a carga de I 600 empresas, do Banco Itaú à Construtora Mendes Júnior, da General Motors à Petrobrás. Abriu 20 filiais, chegou à Argentina. Uruguai. Chile e, agora, quem diria, está com uma roda plantada na China, um país parecido com o Brasil de 30 anos atrás, quando a Translor começou, e onde existem apenas 900 mil quilômetros de estradas e 900 mil veículos numa área de 9,5 milhões de quilômetros quadrados.
“Foi um estalo que me deu. Eu senti a possibilidade de vender know-how aos chineses. Qualquer outra experiência rodoviária, europeia, ou norte-americana, seria sofisticada demais para eles”, diz de maneira segura a empresária Bettina. há menos de um mês eleita presidente da Câmara Brasil-China, na qual é a única mulher entre os 35 integrantes. Uma delegação de técnicos chineses já visitou discretamente as instalações da Translor, querendo saber como funciona uma empresa privada de transporte rodoviário de carga. Bettina explicou. Vai explicar de novo, quantas vezes for preciso. Ela vem descobrindo, no convívio com os chineses por aqui, e nas duas vezes cm que já esteve na China, que é preciso ter paciência. Mas vem descobrindo mais com esse relacionamento: de todos os países que conhece, a China é justamente o que mais respeita a mulher. Por força de uma sociedade marcadamente matriarcal, ali não se pensa duas vezes quando é o caso de ter uma mulher num cargo importante, e Bettina pode dar seu testemunho pessoal a respeito: o governo chinês favoreceu sua indicação à presidência da Câmara Brasil China. gesto no qual ela não sentiu qualquer tipo de concessão. Só respeito.
Quando assumiu a Translor, há treze anos. Bettina não sabia bem se chegava para ficar ou apenas se se entregava como podia a uma situação de emergência. Mas. depois de rodados os primeiros quilômetros de saneamento da empresa — hoje a 23ª colocada no ranking de um imenso universo de 14 mil concorrentes, fora as 35 mil empresas que cuidam do próprio transporte c os 250 mil autônomos que trabalham com seu caminhão —, Bettina casou de novo. E, de novo, tomou o caminho de casa. Um pé, no entanto, ficaria na Translor. Com a ajuda do segundo marido, o administrador de empresas Roberto Lenci. ela foi colocando a casa cada vez mais em ordem. Ele logo deixaria o negócio por conta dela, voltando para seu próprio trabalho. E Bettina. mãe de mais dois filhos, começava a ter tempo para pensar e repensar o que seria, afinal, numa definição completa, o transporte — antes de tudo um conceito, como Walter Lorch lhe ensinara. E já aprendera a gostar do negócio quando, mais uma vez. o conto de fadas chegava ao ponto em que a bruxa entrava em cena. Depois de oito anos de casamento e três de luta contra um câncer, Roberto Lenci morreu. Se a Translor já despertara o interesse de Bettina, agora a conquista era para valer.
É num escritório simples, em São Bernardo, que ela passa, hoje, pelo menos dez horas de seu dia, como presidente do Conselho de Administração. Empresária competente? Sim, sem dúvida, mas não ousa se comparar com um bom empresário. Tem muito o que aprender — e não tem tido vergonha de perguntar.
Cuidando hoje basicamente de duas áreas, a de novos projetos e de relações humanas, ela procura ultrapassar os problemas práticos do dia-a-dia e desbastar o cipoal de problemas conceituais, para usar uma palavra que povoa com freqüência suas frases, que a asfixiam. Começou por estudar a legislação do setor. Depois, engajou-se em associações de classe. Começou a perceber o que é política. Hoje não está mais, como se pode ver e como cia mesma avalia, “de saia justa” no mundo dos transportes.
O quanto lhe custa isso, no entanto, vale a maior parte das reflexões de sua vida. Recentemente, foi visitar a filha mais velha. Lia. de 17 anos, que estuda nos Estados Unidos. “Eu lhe perguntei, assim de uma maneira muito solta, o que era a Translor para ela. E ela me respondeu: “A Translor é uma coisa que te cansa muito”. Nocaute em Bettina. Também há poucas semanas, ligou para o filho mais novo, Lucas, de 7 anos — há ainda Toya. 16 anos, e Fernanda. 10 — que passava uma temporada na Alemanha com a avó materna. “Você está com saudades da mamãe, quer voltar logo?’’, foi sua pergunta ansiosa. Por saudade, sim, pela vida que eu levo aí, não. foi a resposta. Nocaute número dois.
Lucas tem razão: a vida que se leva aqui poderia ser muito melhor. Bettina reconhece. A família só se encontra à noite e nos fins de semana, e não é a mãe mais disposta do mundo que as crianças veem pela frente. Elas entendem, não cobram mas ela se cobra. É assim mesmo que as coisas têm de ser? Não, não é sua tese que lugar de mulher seja em casa — se fosse, com certeza teria dado um jeito para manter na Translor apenas um cargo de honra, ou de enfeite. Mas será que alguém — no caso, as mulheres de sua geração, e ela está com 42 anos – que cresce ouvindo dizer que sua função, no mundo, é junto à família. consegue se sair bem, sem culpa, da divisão de trabalhar fora e continuar a ” missão”? Ela não sabe como funciona para as outras, e nem para ela mesma tem respostas. Mas não deixa de procurá-las. A prova está na cabeceira de sua cama, na forma de um caderno de capa dura e páginas sem pauta, onde com letra firme e linhas muito juntas, registra, religiosamente. suas inquietações. Faz isso há muitos anos, e se o lugar do caderno oficialmente é no seu quarto, isso não quer dizer que só escreva ali. às vezes acordando no meio da madrugada e acendendo a luz às pressas, para não deixar escapar uma determinada emoção, um insight específico: o caderno, aos poucos, fica recheado de pedaços de papel com anotações feitas no escritório, ou no banco traseiro de sua Quantum vermelha na qual faz o percurso Translor/Alto da Boa Vista, bairro afastado de São Paulo, onde mora — Bettina gosta de dirigir, mas não exatamente no trecho da rodovia dos Imigrantes, que é obrigada a percorrer quase sempre em meio a um tráfego mais do que denso. Ao que parece, pelos textos que coleciona e que pretende um dia juntar num livro, por considerar que suas inquietações são de mulheres, e não de uma mulher, a repórter anda ganhando a parada sobre a fotógrafa. Vestígios desta faceta de Bettina inexistem na ampla construção cercada de jardins onde convivem na mais santa paz um cachorro, dois gatos c um periquito, com direito a trânsito livre por toda a parte, e sem. claro, que destruam uma horta, que em julho exibia pés de couves de dar água na boca, c uma plantação de orquídeas, que crescem sob os olhos e cuidados atentos da dona da casa. Não há fotos peias paredes, nem sobre os móveis, à exceção de dois ou três porta-retratos, e ela acha que essa foi sua forma de lidar com lembranças do passado, tão boas quanto dolorosas. Mas a quase museóloga. que chegou a trabalhar com Pietro Maria Bardi, no Museu de Arte de São Paulo, nos “antigos” tempos do conto de fadas, exibe sua presença por toda a parte. Esculturas, uma coleção de brinquedos. outra coleção de objetos, que compra pelo que têm de curioso ou mesmo de kitsch, c quadros, muitos quadros fazem o cenário doméstico de Bettina — num dos quadros, enorme, que ocupa a parede nobre de seu quarto, com fundo predominantemente amarelo, é ela própria a retratada, pelo valorizado traço do artista plástico Wesley Duke Lee. Ela está como que recostada, e só.
Também na vida real ela anda só, embora se defina como uma mulher que adora estar casada, com a família toda à sua volta. Mas acha difícil incluir um novo casamento em seus planos, depois de tudo porque já passou — mas quem sabe? Enquanto essa questão ainda lhe parece nebulosa, ela vai descobrindo todas as nuances do que é trabalhar num setor eminentemente masculino. Ao reassumir a Translor para valer, há três anos, Bettina decidiu que a melhor roupa “de combate” seria mesmo um terno, e mandou fazer muitos, no mesmo alfaiate do segundo marido. O terno, na verdade, é um conjunto de saia reta e um paletó de estrutura clássica, ou seja, um traje hoje em dia mais do que na moda. O conjunto foi parar no seu guarda-roupa, ela jurava a princípio, porque era prático. Continua jurando, só que agora ela sabe que foi também o jeito que encontrou de não espantar um colega empresário com quem precisasse discutir transportes, se entrasse cm sua sala num vaporoso vestido. Mas embora procure se enquadrar num código visual que não chame a atenção, sabe que sobre uma mesa de negociação acaba sempre tendo o seu peso o fato de ser mulher, e bonita. Brincando, diz que hoje, ainda, pode dar-se ao luxo de não saber tudo sobre seu trabalho — aos 50 anos, terá que ser uma expert, porque talvez então nada lhe seja perdoado.
Quando souber “tudo”, quer estar pensando a Translor, e não administrando a Translor. Não tem veleidades de ser sempre a única dona, imagina uma empresa tocada a muitas mãos, e pertencendo a muitas mãos. Aí. ela vai ter tempo para fazer o que gosta, certamente. acima de todas as coisas: lidar com ideias, discutir conceitos. Talvez, até. contribuir de uma maneira mais decisiva para o problema dos transportes no Brasil — será que o Ministério dos Transportes não poderá se beneficiar com algumas de suas reflexões forjadas na pratica de tanto tempo? Talvez sim. E quem sabe ela não chega a uma resposta mais conclusiva discorrendo a respeito no seu caderno de capa dura?